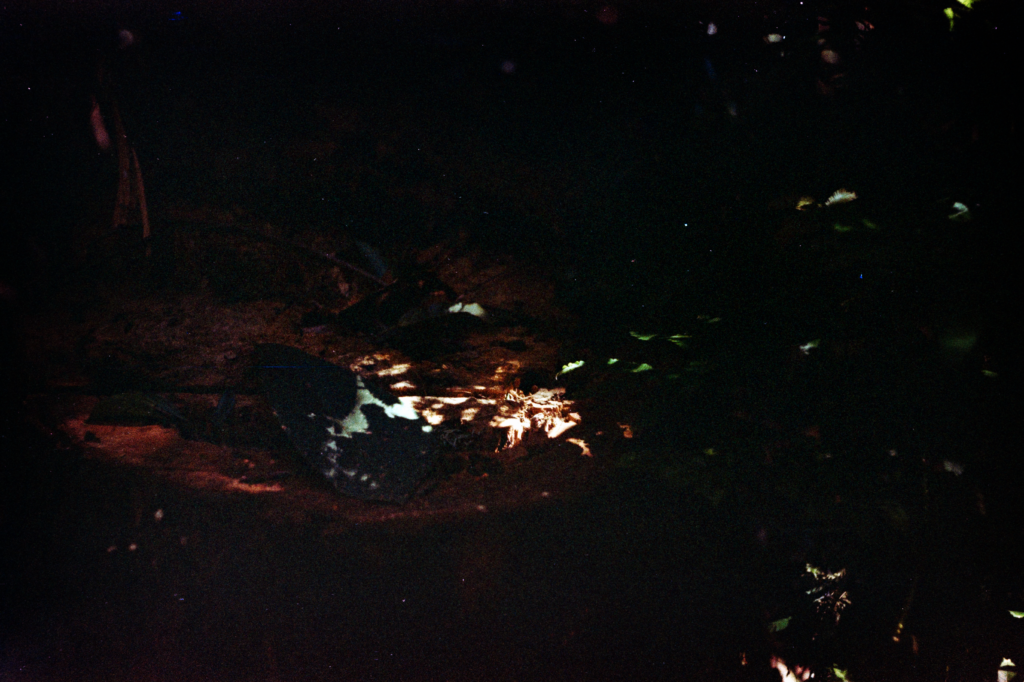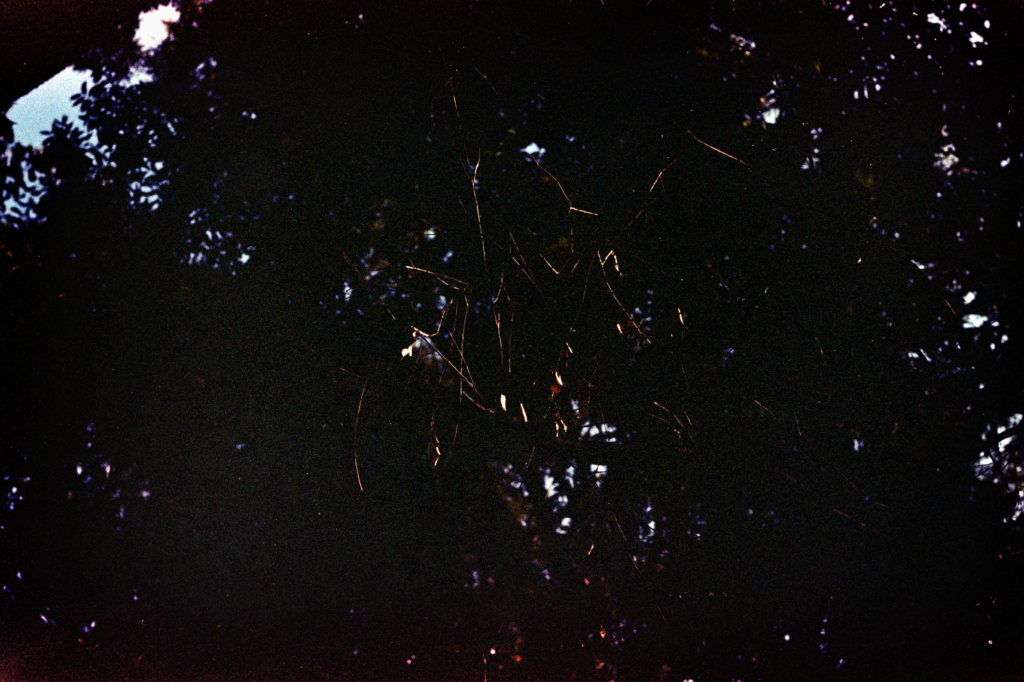Eu não me tornei uma pessoa independente por querer. Eu me tornei uma pessoa independente por precisar. E quanto mais velha eu fico, mais percebo os problemas dessa estratégia de sobrevivência na minha vida. A começar pelo sofrimento excessivo que eu sinto quando preciso pedir algo. Venho de uma casa de mulheres independentes; também, sem romantismo nenhum nisso. Minha avó teve que alimentar cinco filhos quando o marido ficou desempregado, minha mãe desejava garantir meus estudos mesmo sem receber pensão.
Um marco na minha independência certamente foi o dia em que fiz meus primeiros arroz e feijão, com direito a panela de pressão, lá pelos 11 anos. Eu podia ter ido à casa da minha avó, no quarteirão de baixo, almoçar. Mas pedi pra ela me ensinar por telefone o que eu tinha que fazer. Deu certo. No ano seguinte, passei a ir desacompanhada para a escola. E eu sei que foi mais ou menos nessa idade que eu andava pelo bairro de bicicleta, ficava horas dando volta na praça da igreja, sozinha.

Acho que eu teria preferido, se pudesse, não ter esse impulso tão grande e sempre latente de independência. É bonitinho pensar numa pequena Bárbara cortando cebola, espremendo alho, aprendendo a refogar algo. Mas não consigo evitar pensar o quão gostoso deve ser se sentir cuidada. Se sentir cuidada sem imaginar, de tempos em tempos, que está estorvando.
Porém, ao mesmo tempo em que problematizo os porquês e as consequências da minha independência precoce, sinto que a minha autonomia é um grande valor para mim. Então, essas duas palavras (autonomia e independência) parecem se dissociar e ter sentidos muito distintos.
Talvez eu deva fazer uma pequena pausa no texto antes de prosseguir. Já faz muito tempo que eu penso sobre autonomia. Sobre ela ser de fato um valor para mim e um objetivo constante. E só nessa semana me ocorreu que talvez autonomia e independência não sejam sinônimos. Que enquanto busco caminhos para me realizar através do meu ser autônomo, adoraria encontrar formas de aprender a pedir ajuda, a pedir carinho, a pedir cuidado. Que a minha autonomia possa conviver com as minhas dependências com relação às pessoas de que eu gosto, e admiro.
Nos meus anos estudando feminismo e escrevendo sobre direitos de mulheres, sempre me caiu muito mal umas expressões da moda. Empoderamento, principalmente. Soa estranho, e não garanto que tenha tido seu sentido esvaziado pois não tenho certeza se já houve um sentido semântico na palavra com o qual eu concordasse. Para mim, o poder deveria, sob qualquer circunstância, ser questionado. Mesmo que fosse para, depois de enfrentado, ser aceito como legítimo. Mas eu não queria disputar o poder com os homens. Eu queria que esse poder deixasse de existir. (até porque, não são todos os homens que realmente têm acesso ao Poder; mas isso é assunto pra outro texto).
E, quanto mais eu refutava empoderamento e todos os seus usos em campanhas publicitárias, mais eu entendia o lugar que a palavra autonomia ocupava nos meus posicionamentos políticos. E talvez eu só pare agora para escrever isso (escrever é me organizar) por conta dos acontecimentos dos últimos meses. Principalmente pela minha viagem ao Vale do Ribeira e aos resultados da eleição presidencial.

É fácil aceitar que o governo de Jair Bolsonaro foi baseado em morte e destruição. Mas, para chegar até esse objetivo, ele (o governo, não o Jair, que acho incapaz de desempenhar qualquer ideia com método) teve que minar autonomias. De diferentes povos, mulheres, crianças, doentes. Ao tratar quilombolas como animais, indígenas como incapazes, mulheres como objetos, doentes e aposentados como problemas, o governo atacou a sobrevivência e a autonomia de cada uma dessas categorias (sem falar em todas as outras coisas horrorosas como cortes em pesquisas, a volta do país ao Mapa da Fome, a política de extermínio na pandemia).
Ir ao Vale do Ribeira (sozinha, como costumo viajar) me mostrou, no entanto, os caminhos em que a autonomia e a interdependência se cruzam. Interdependência, porque não é independência e prevalecem relações de reciprocidade, de troca. Viajar sozinha faz com que eu seja obrigada a me abrir a favores, a permitir uma fragilidade que escondo na minha cidade. Não vivo independência absoluta quando viajo só. Dessa vez, de um dia para o outro e através de favores de pessoas que eu não conhecia, consegui uma carona que me levaria ao Petar (Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira) e consegui também uma cama para pernoitar.

Eu tive a chance de acompanhar uma visita pelas trilhas e cavernas do parque com pessoas da região, guias das comunidades remanescentes de quilombos que trabalham com turismo por ali. Um funcionário do parque explicava a uma moça mais jovem do que eu os meandros para conseguir melhorias no seu território e aquilo me pareceu tão singelo. Não que eu tenha algum carinho específico por preenchimentos de formulários e planilhas, mas me parecia que a explicação delegava a ela escolhas, possibilidades. Um negócio besta, um jeito fácil e barato de fazer uma escadaria num morro, por exemplo, cuja decisão caberia a ela e aos que precisariam daquilo.
A autonomia habita esse espaço em que as pessoas – os indivíduos, mas também os coletivos; povos, comunidades – têm o direito de escolher o que acham melhor. O resultado das eleições trouxe a mim e aos meus uma leveza que não sentíamos há anos. O autoritarismo como projeto pôde ser coletivamente refutado; e o que se opôs a ele foi, antes de mais nada, a defesa da autonomia (para pensar, ser, agir).