Esse texto é sobre Top of the Lake
Top of the Lake é a série mais subestimada que já vi. Não por as pessoas não gostarem dela, mas sim por pouca gente a conhecer. Eu mesma só a conheci com a premiação de Elisabeth Moss (a Peggy de Mad Men) no Globo de Ouro por sua interpretação como a detetive Robin Griffin. A série foi lançada em 2013, Moss ganhou o prêmio em 2014, e eu fui assisti-la em 2015. São seis episódios, e a direção é de Jane Campion, que ganhou Oscar pelo filme O Piano. Por ser uma série de drama e suspense policial, dá aquela vontade de ver todos os episódios de uma só vez. Além disso, todo o enredo se desenvolve em paisagens alucinantes da Nova Zelândia.

Terminada essa apresentação que espero tenha induzido o público a procurar formas de ver a série, conto para vocês que foi exatamente lá por 2013 que um dos temas de Top of the Lake começou a tomar corpo na minha vida. Até aquele ano, eu nunca tinha tido um grupo de amigas. Éramos sempre, no máximo, duas ou três meninas. No ensino fundamental isso acontecia porque meus interesses principais me levavam a passar horas com os meninos do colégio: ficava até tarde lá jogando pebolim, era contratada como batedora de figurinhas mercenária (o pagamento era uma porcentagem das figurinhas do Pokémon ou do Campeonato Brasileiro de 1998), aderia mais facilmente à moda de lançar peão no pátio do que adquirir novas bonecas. Já no ensino médio, a grande tensão que dá sentido à minha narrativa era aquela de não suportar comportamento de grupo e não gostar muito da minha própria solidão. Eu queria me sentir querida, mas com a certeza de que era por minha personalidade de indivíduo e não pela carteirinha de algum clubinho intra-escolar.
Em 2013, comecei a participar de grupos com muitas mulheres. Inclusive aquele que um dia deu origem à Revista Capitolina. Não fui a única, e de lá para cá a emergência desses grupos, principalmente virtuais, gerou várias matérias sobre como surgia um novo momento do movimento feminista. Nesses grupos, coisas que muitas de nós entendiam como geradas por circunstâncias muito particulares de nossas vidas pareciam plenamente compartilháveis com outras tantas mulheres. Já fora da internet mas dentro do mundo ficcional de Top of the Lake, a personagem GJ (interpretada por Holly Hunter) se instala em um terreno chamado Paradise (Paraíso, em português) e aloca em grandes contêineres mulheres que passaram por situações traumáticas e buscavam em um ambiente feminino conforto para suas angústias. Ali, elas conversam, cozinham, cantam, levam bronca de sua guru (a tal da GJ).

A parte mais interessante é que Paradise, ainda que seja uma comunidade à parte, não está fora do mundo e vê os problemas dele entrarem em seu espaço. É um lugar de segurança para as personagens, mas elas tem diversas contradições (internas e com seus pares). Com a personalidade categórica de GJ, porém, a gente aprende que esses espaços são antes refúgios e não soluções (em entrevista, Jane Campion disse “Eu me interesso de verdade por conceitos como paraíso. (…) Um monte de gente se muda para essa área na esperança de ficarem felizes, mas claro que não há algo como paraíso, não na terra – nossas mentes nos enlouquecem onde quer que estejamos”). Nem todo mundo se sente à vontade em estar em grupo todo o tempo, e nem toda tensão que surge significa que ambientes seguros não sejam necessários. Só eu – e mais um monte de pessoas – sei como é importante em tantos momentos o compartilhamento de experiências e não se sentir um caso isolado.
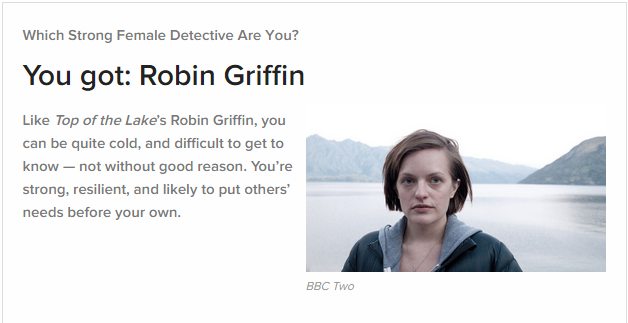
Esse texto saiu primeiro na newsletter No episódio anterior
