Este texto é sobre The Handmaid’s Tale
Outro dia, disseram algo em um podcast que escuto que me deixou pensando por horas. A ideia era simples, e quase óbvia, mas precisa justamente por isso. Ao contar sobre o vídeo de uma criança que chorava, o apresentador disse: “Quando você é criança, você chora porque sente que mentiram para você, porque a vida é injusta e você não entende. E então como adulto, você chora porque a vida ainda não é justa, mas você entende. Você chora porque você entende isso”. Essas frases me acertaram com ainda mais força quando poucos dias depois me meti em uma maratona da série The Handmaid’s Tale. Se a série nos faz sofrer, é por entendermos do que se trata.
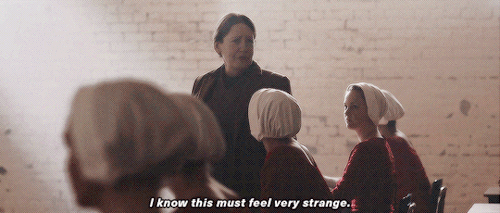
O talento de grandes ficções científicas em cenários distópicos mora no exagero de características do nosso mundo. A verossimilhança de que algo daquilo pode acontecer e, inclusive, em um futuro próximo, é a principal força desse tipo de narrativa. E o receio de cair em uma explicação simples de “Viu, só? É isso que nos tornaremos!” é tão forte quanto. As questões mais latentes de The Handmaid’s Tale (e do livro – O conto da aia -, que é igualmente bom) passam por direitos reprodutivos, moralidades religiosas, controle social. Temas que não são absurdos distópicos para a pessoa contemporânea. A gente chora porque a vida ainda não é justa e entendemos isso.
Já faz cinco anos que eu me dedico a estudar teorias feministas e, neste mês, fui a um congresso apresentar um pedaço da minha pesquisa sobre gênero. São cinco anos em que o interesse sobre o assunto cresceu bastante, que o mercado aproveitou em suas publicidades e que a gente faz balanços constantes sobre o que mudou nesse período. Eu lembro de estar em 2012 em uma disciplina sobre arte e gênero, e muitas meninas falarem seus nomes, seus cursos e completarem com “sou feminista”. Eu lembro de estranhar isso, porque, para mim, parecia evidente que todas ali éramos. Afinal, estar sentada em uma sala de aula no ensino superior só era possível por uma trajetória de lutas coletivas e mudanças – lentas, às vezes – de pensamentos sociais. É possível que tenhamos avançado bastante em cinco anos, mas ao mesmo tempo, parecem tempos difíceis para os sonhadores (eu infelizmente nunca acreditei que há tempos fáceis e a gente chora porque a vida ainda não é justa).

The Handmaid’s Tale não nos alerta para um futuro sombrio, mas sim para elementos complicados do nosso tempo presente. Ela conta quais são nossos medos, mas também nos lembra que não existe ação sem reação, não existe controle sem resistência. A série conta coisas que às vezes é até difícil de explicar em artigos acadêmicos ou textos de divulgação, como a relação complexa que existe entre gênero, classe e raça, e ainda de gênero e sexualidade. Algumas discussões que tem sido intrínsecas e complexas dentro do movimento feminista, como por exemplo aquelas sobre punitivismo, tem algumas cenas formidáveis (afinal, o que é aquele ritual de salvamento?). E não minimiza nosso desfrute estético, faz isso de uma forma bastante radical e com uma playlist absurda de boa. Mas, mesmo assim, se a gente chora por aquelas coisas, é porque a vida ainda não é justa.
Lutas sociais são sempre histórica e geograficamente localizadas. Por isso, nunca é simples tentar analisar ganhos ou perdas de liberdade ou igualdade comparando com outros contextos. The Handmaid’s Tale, por exemplo, se passa em um território chamado Gilead, mas que se supõe que era um pedaço dos Estados Unidos, ali pros lados de Boston. Eu preciso dizer isso, porque lembrei de ter lido uma matéria sobre design, aborto e direitos reprodutivos de mulheres e pensado como as demandas de gênero no Brasil ainda estão em outro patamar de discussão. Acredito piamente que forma e conteúdo andam juntos, mas é curioso pensar que o nosso esforço tem sido evitar retrocessos em legislações restritas. No fundo, a gente chora porque a vida ainda não é justa, e entende, mas também luta, que é pra não se conformar com isso.

Esse texto saiu primeiro na newsletter No episódio anterior
